O acordo comercial entre China e Estados Unidos se desgasta. E agora?
junho de 2020 Texto de M K Bhadrakumar –
Tradução de btpsilveira
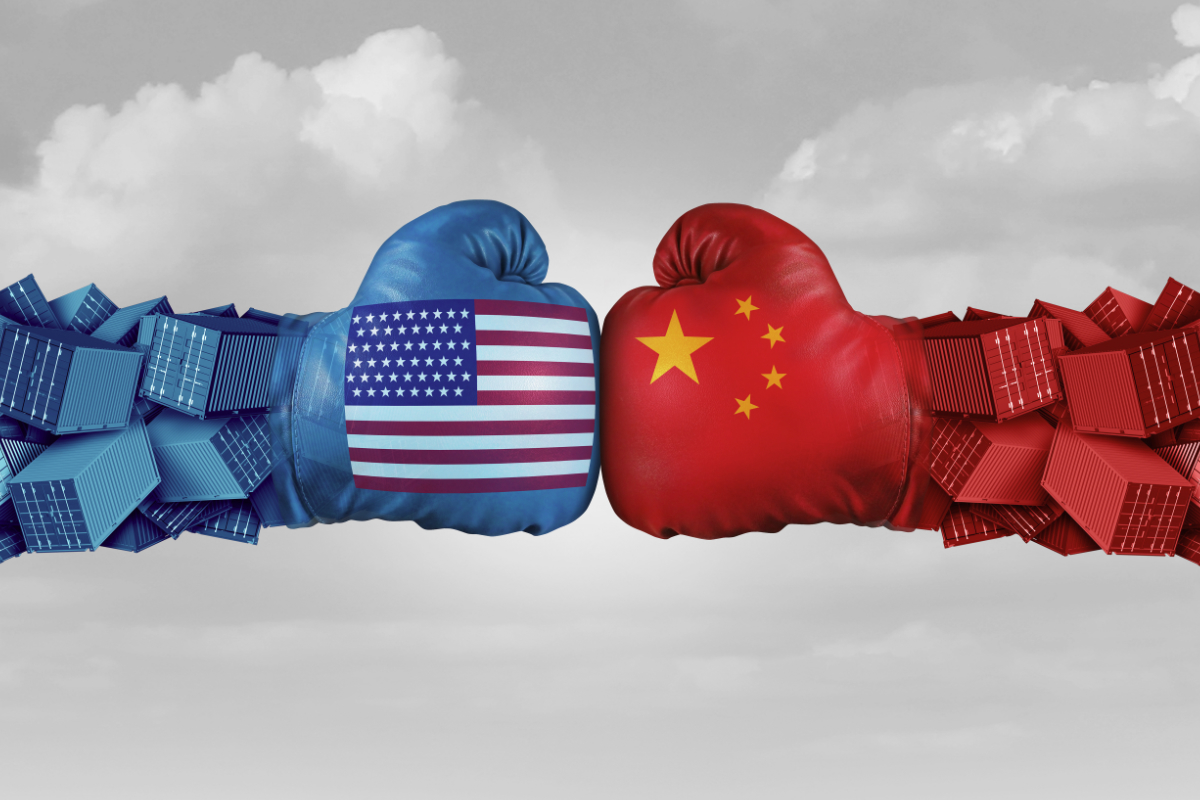 |
| Na medida em que a Casa Branca Compara o presidente chinês Xi Jinping ao líder soviético Joseph Stalin, esquenta o confronto entre China e EUA |
A comunidade mundial pode dar um
suspiro de alívio porque parece que não haverá uma nova Guerra Fria, desta vez
entre Estados Unidos e China. Qualquer Guerra Fria necessita de dois blocos:
enquanto Washington demonstra ser incapaz de manter a união de um bloco, Pequim
parece desinteressada em reunir e manter um. Simplesmente não tem essa
mentalidade. Mas isolar a China da comunidade internacional é coisa mais fácil
de dizer do que de fazer, na medida em que a globalização liderada pelos EUA está
sendo substituída pela globalização conduzida pela China.
Também não há perspectiva de guerra
quente entre os dois países. O que surge no horizonte é um impasse/confronto
entre a administração Trump e Pequim em um vácuo geopolítico cuja trajetória
depende em grande parte do resultado das eleições presidenciais dos EUA em novembro.
Em maior parte, a comunidade mundial
não integra esse impasse, com exceção de dois rebeldes da região “Indo-Pacífico”
que se juntaram ao comboio dos Estados Unidos – Índia e Austrália.
Como um todo, a Ásia prefere ficar
fora da questão. O Japão, por exemplo, toma cuidado para não provocar a China.
Os países da comunidade ASEAN se recusam a tomar partido entre a administração
Trump e a China. Na realidade, o grupo ASEAN acabou de assegurar que o acordo de
Parceria Econômica Regional Abrangente (Regional Comprehensive Economic
Partnership), o qual envolve tanto a China quanto o Japão será assinado ainda
neste ano, transformando radicalmente a integração da região Ásia/Pacífico.
A Europa também preferiu ficar de
lado, e já começou a trabalhar nos termos do engajamento com a China para uma
parceria mais igualitária e equilibrada, atenta à realidade flagrante de que a
China se destaca no pós-COVID-19 como a economia menos afetada.
No núcleo, as fobias
Resumindo, todo o imbróglio começou
com a decisão do presidente Trump de elevar a China à condição de inimigo, como
ponto de apoio para sua reeleição em novembro.
Trump achou que essa estratégia
esperta faria dele o ganhador de tudo no final. Por um lado, ele assumiu que o
acordo “Fase 1” de janeiro deste ano deveria obrigar a China a comprar mais de
200 bilhões em produtos (norte)americanos entre eles massivas quantidades de
produtos agrícolas, o que inevitavelmente exibiria sua política externa como um
sucesso inegável.
Por outro lado, Trump achou muito
útil projetar-se como o presidente “mais duro” em relação à China – um autorretrato
que ele usa para impressionar a galera doméstica e ao mesmo tempo diferenciar
sua candidatura de seu oponente mais proeminente, o democrata John Biden, ao
qual Trump lança a pecha de ser incapaz de fazer frente à China “assertiva”.
Além disso, conjurando o “Wuhan vírus”,
Trump espera desviar a atenção de sua incompetência e fracasso no desafio de
manejar a pandemia da COVID-19 que provavelmente crescerá em importância como a
Nêmesis de sua campanha presidencial.
Sem dúvida nenhuma, Pequim pouco se
importaria em servir de saco de pancadas para que Trump parecesse “forte” como
político em ano eleitoral. Ocorre que a administração Trump equivocadamente agiu
para criar ligação entre os planos eleitorais de Trump e o campo diplomático para
organizar uma maneira de estabelecer as fundações de estratégia futura
semelhante à Guerra Fria contra a China sob a liderança dos Estados Unidos.
Toda essa arquitetura se baseou em leitura
catastroficamente equivocada de que a pandemia da COVID-19 teria atingido
letalmente a China, atrasado seu crescimento econômico, o que por sua vez
levaria o público a se desapontar, alienando-se do Partido Comunista Chinês, o
que representaria desafios enormes e sem precedentes para a liderança de Xi
Jinping.
Em outras palavras, pela narrativa (norte)americana,
o momento atual representava oportunidade rara para desacreditar e isolar a
China, destruindo suas perspectivas de crescer como superpotência que
rivalizasse com os Estados Unidos. Assim, a diplomacia (norte)americana, sob o
comando do Secretário de Estado Mike Pompeo (antigo sargento no exército dos
EUA que substituiu James Mattis, general condecorado e com mentalidade mais
cautelosa) mudou repentinamente de rumo para adotar uma agenda anti-China como
seu foco principal.
Nos últimos anos, enquanto Trump
lançava a guerra de tarifas EUA/China, Pompeo entrou em modo turbo com uma obsessiva
campanha diplomática à la Churchill – “lute contra eles nas praias” – que ia
por um lado do apoio aos protestos e
conflitos em Hong Kong, o discurso sobre as alegadas supressões dos direitos
dos muçulmanos uigures, as fortes tentativas de criar um sistema de alianças
com Índia e Austrália para conter a China, a atitude militar cada vez mais
agressiva apresentada no Mar do Sul da China, a retirada da política intocável
vigente desde 1972 de “Uma China”, uma campanha global de vilificação contra a
empresa Huawei e a tecnologia chinesa 5G até uma série de movimentos, por outro
lado, para reverter a política ampla de relacionamento bilateral entre China e
Estados Unidos (incluindo mais tarde as sanções e controle de vistos de entrada),
tudo dentro de eventual política de longo prazo para “cortar completamente” as
relações entre Estados Unidos e China.
A atitude chinesa em relação ao mapa
traçado por Pompeo tem sido largamente reativa. Evita-se provocar os EUA ou
agir contra seus interesses principais regional ou globalmente. Seus contra-ataques
incluem principalmente:
o fortalecimento do entendimento
entre China e Rússia;
aberturas para países membros da
União Europeia (especialmente Alemanha e França) para parceria mutuamente
benéfica baseada em respeito e confiança mútuos;
criação de nova cadeia de suprimentos
em preparação para um eventual corte completo de relações com os Estados
Unidos;
focar em inovação e desenvolvimento
doméstico em tecnologia;
amenizar as tensões com o Japão;
“regionalização” de suas políticas de
globalização (o grupo ASEAN substituiu os Estados Unidos como o principal parceiro
comercial da China);
usar a Iniciativa Cinturão e Rota
(BRI, na sigla em inglês – NT) para impulsionar a globalização liderada pela
China (incluindo o mapeamento de uma Rota da Seda da Saúde para posicionar o
país como líder na área e da saúde na pandemia da COVID-19); e, claro,
Rejeitar com força total a
interferência dos EUA em Hong Kong ou nos assuntos internas chineses e conter
possíveis ameaças à sua “soberania territorial”.
Mesmo passando um pente fino, não é
possível qualificar qualquer desses movimentos como “antiamericanos”
Mitos desfeitos
No entanto, as coisas começaram a
mudar em semanas e meses recentes quando o show itinerante de Pompeo começou a
alvejar e vilificar cada vez mais frequentemente o Partido Comunista Chinês, pintando
o venerável partido fundado por Mao um século atrás em 1921 como a fonte de
todo o mal no planeta.
É bem possível que a diplomacia
(norte)americana tenha sido iludida pela (falsa) noção de que a base social do
PCC fora dramaticamente enfraquecida pelo coronavírus e que a manutenção de Xi
Jinping no poder periclitava, abrindo oportunidade histórica para acabar com o
legado da revolução chinesa, similar à que os EUA explorou brilhantemente em
1980 quando destruiu a União Soviética enfraquecida e enterrou o legado
bolchevista.
De fato, a narrativa predominante entre
especialistas em assuntos da China nos EUA (e também entre analistas indianos)
é que Pequim estava sob pressão intensa devido ao desarranjo em seus assuntos
domésticos ao ponto da liderança ter que “flexionar os músculos” no exterior de
maneira forçada para simular poder e estabilidade política em casa.
Paradoxalmente, os dados empíricos
mostram outro cenário – na realidade Trump é que se encontra sob grande pressão
para tentar projetar a si mesmo nas eleições deste ano como o “homem forte”
capaz de liderança decisiva, pressão esta decorrente da polarização e de
condições assemelhadas a uma guerra civil na economia política dos EUA,
alimentada pela pandemia da COVID-19, depressão econômica profunda, conflitos sociais
e raciais e encerrada inexoravelmente dentro de um sistema de dois partidos em
combate político mortal, dividindo a nação ao meio em duas metades distintas.
Nas últimas pesquisas, Joe Biden
aumentou sua liderança para 19 pontos percentuais, o que é assustador. Caso a
pandemia se torne mais aguda nas próximas semanas e meses, perspectiva bem
provável, o julgamento político de Trump entra em modo de julgamento severo –
em particular sua decisão fatídica de reabrir a economia mesmo antes do
achatamento da “curva” da COVID-19.
Previsivelmente, a paciência da China
se tornou curta e está batendo de volta justamente onde dói mais em Trump –
escusando-se da obrigação de comprar centenas de bilhões dos produtos (norte)americanos
a menos que Trump se retrate de suas políticas hostis em relação a China.
A China está retaliando com plena
consciência que o lobby dos agricultores é segmento importante da base de apoio
de Trump. Trata-se de golpe mortal (Trump está correndo atrás de Biden no
estado chave do Wiscosin).
Enquanto isso começa a emergir a
partir de dados comerciais recentes que o balanço do resultado da propagandeada
“guerra comercial” de Trump com a China é largamente oposto ao que era esperado
pela Casa Branca.
Ironicamente, como dois estudiosos
sobre a China da Carnegie Endowment for International Peace salientaram semana
passada, “as tarifas não resultaram em melhora real no balanço subsequente dos
Estados Unidos, enquanto o superávit comercial da China aumentou e seus
mercados de exportação se tornaram mais diversificados”
Os dados mostram que “a redução de
Trump do déficit comercial bilateral com a China foi muito onerosa, com uma
contração significativa na atividade econômica e o crescimento inesperado do
excedente comercial global chinês”.
Na medida em que a importação dos EUA
a partir da China caiu $87.3 bilhões de dólares de um ano para o outro, essa
queda resultou em preços mais altos para vendedores do varejo e famílias em vez
de prejudicar o superávit comercial chinês. Também não provocou aumento de
empregos entre a classe operária da indústria manufatureira (norte)americana,
resultado esperado por Trump.
A China também compensou efetivamente
a queda das exportações para os EUA através do aumento de vendas para praticamente
o resto do mundo inteiro. Apenas as exportações chinesas para os países do
grupo ASEAN cresceram $38.5 bilhões de dólares. As tarifas retaliatórias sobre importações
dos Estados Unidos diminuíram a conta das importações em mais $33 bilhões de
dólares.
Sabe-se agora que apesar da guerra
comercial com os Estados Unidos, a China terminou o ano de 2019 com um excedente
comercial de $60 bilhões de dólares. Isso apesar do fato que, como o estudo da
Carnegie esclarece,
“O domínio da indústria manufatureira
global pela China vem diminuindo gradualmente a partir do seu ápice em 2015,
devido as mudanças estruturais da economia chinesa, tais como sua graduação
contínua em vestimentas e tecidos, declínio do país como destinação final para
montagem e reestruturação em relação ao consumo e prestação e serviços, que são
menos intensivos que o capital de investimento”.
O que as tendências relatadas acima
revelam claramente é que a guerra comercial com os Estados Unidos e as mudanças
induzidas pela pandemia na cadeia de suprimentos só vão acelerar as tendências que
Pequim estabeleceu como sua estratégia econômica para um país de renda média.
Em suma, Trump não conseguiu realizar
seu objetivo de reduzir déficits comerciais e enfraquecer as perspectivas
econômicas chinesas. Julgando a partir de investimento, consumo e nível de
preços, a economia chinesa não foi afetada de forma significativa pela
repressão dos Estados Unidos em comércio, ciência e tecnologia.
Sejam quais forem as mazelas que a economia chinesa
sofre atualmente, Trump não é a causa e sim, como um estudioso chinês escreveu
recentemente “causada pela contradição entre a oferta e demanda interna, a
bolha financeira causada pelos financiamentos de ativos de raiz, que ainda não
foi completamente assimilada pela sociedade, e o ciclo acidentado do estímulo
da demanda agregada Keynesiana reiteradamente repetida e finalmente pela
emissão excessiva de M2. (Falando
de forma bem simples, M1 é a oferta monetária [valores monetários em circulação]
que inclui apenas dinheiro e depósitos em cheque. M2 é a oferta monetária que
inclui o M1 mais “quase dinheiro”. Quase dinheiro são os depósitos de poupança,
títulos do mercado, fundos de mútuos e depósitos a prazo. O quase dinheiro não
é tão líquido quanto o M1 nem tão propício a servir de meio de troca, mas pode
ser rapidamente convertido em dinheiro. Fonte de pesquisa: Investopedia – nota
do tradutor)
A guerra não é opção
Nem é necessário dizer que Pequim fez
cálculos cuidadosos enquanto traçava a linha vermelha na areia no Havaí no
encontro de 17 de junho entre o poderoso membro do Politburo chinês e principal
diplomata Yang Jiechi e o Secretário de Estado dos Estados Unidos Mike Pompeo.
A questão crucial é que desde que não
há mais diferença significativa de força econômica entre as economias chinesa e
(norte)americana, a guerra contra a China deixou de ser uma opção para
Washington. Toda a guerra econômica de Trump, a guerra na ciência e tecnologia
e até a guerra ideológica não influem na diferença de poder entre EUA e China,
que se estreita a passo acelerado a favor da China.
Ao contrário, o surto da pandemia
causou perdas pesadas na economia dos EUA, como ficou evidente pelos sucessivos
acionamentos do mecanismo de circuit-breaker no mercado de ações
(norte)americanos no período desde março. Acrescente-se o impacto cumulativo da
taxa de desemprego extremamente alta e a morte de mais de 120.000 pessoas, numa
sociedade já em instabilidade social que se torna a cada dia mais letal.
No plano geopolítico, não há
compradores da estratégia de Trump para suprimir a China, a não ser Índia e
Austrália. O que torna os Estados Unidos mais isolado é o fato de que a União
Europeia está tratando de agir de maneira independente em relação à China, na
busca de seus próprios interesses, com ênfase da cooperação e parceria europeia
com a China, apesar da competição econômica vigorosa entre os dois lados.
A União Europeia insiste que o envolvimento
e cooperação com a China é questão “tanto de oportunidade quanto de necessidade”,
mesmo continuando com grandes esforços para melhorar as práticas econômicas
injustas da China. A questão é que a
Europa é muito dependente da China em comércio e investimento e não pode nem
irá compartilhar do obsessivo foco dos Estados Unidos em geopolítica. Muito
menos participará de qualquer aventura militar dos EUA contra a China. Mesmo
retoricamente, os líderes europeus evitam referência a qualquer ataque contra a
China de forma confrontacionista, obstinada ou punitiva. Mais importante, os
europeus estão profundamente desconfiados da administração Trump, que entendem
ser duvidosa e imprevisível.
Desnecessário afirmar que a atual
política da administração Trump de supressão da China e contenção efetiva do
futuro desenvolvimento e fortalecimento abrangente do país asiático não tem
futuro. Trump sente-se amargurado por ser visto como um “perdedor”, papel que
despreza. O azedume é visível. A coisa parece ter se tornado pessoal com o
tempo, como demonstrado na extraordinária explosão de fúria na Casa Branca
nesta semana, comparando Xi Jinping com Joseph Stalin, como tiranos e Marxista-Leninistas
incorrigíveis, o insulto máximo no vocabulário político trumpiano.
Dito isto e polêmicas à parte, Trump
é também um realista que sabe muito bem que a política de supressão que a sua
administração encetou contra a China em seu primeiro mandato não apenas falhou
em alcançar o resultado que queria para alavancar sua reeleição como pouco fez
para infligir danos concretos na linha de vida da economia chinesa. Caso
consiga um segundo mandato, essa conquista pode levá-lo a ajustar sua política
com a China. Um novo começo é possível, desde que haja um novo time para a
política externa, bem como não haverá mais necessidade de arrogância para
conquistar vantagem eleitoral. Caso isso aconteça, a China certamente
responderá a quaisquer aberturas.
De fato, se Biden vencer as eleições
é quase certo que ocorrerá uma reviravolta radical. Espera-se que a política de
Biden em relação à China seja racional e pragmática, mesmo levando-se em conta
que ele foi o coreógrafo do “reequilíbrio” estratégico na Ásia durante a
presidência de Barak Obama. Biden e os democratas em geral tem uma atitude mais
aberta e relativamente mais positiva para lidar com o período complicado que virá a seguir no
qual a China estreitará rapidamente o fosso de poder que a separa dos EUA.
Canais de diálogo reabrir-se-ão,
substituindo a postura rebuscada da presidência Trump, que demonizava a China
como uma ameaça existencial. Numa presidência Biden, o clima geral das relações
EUA/China só pode melhorar – embora a competição entre Estados Unidos e China
deva continuar ferrenha nos campos da alta tecnologia e na imposição de padrões
globais, enquanto a economia navega por uma era de progresso tecnológico
acelerado e inovações cuja aplicação e difusão rápida pode levar a mudanças
abruptas na sociedade.
A questão é que como os países
europeus, Biden também terá que lidar com assuntos domésticos – como mudança
climática, questões raciais, justiça social, recuperação da economia interna
depois da pandemia, etc, que acabará por criar uma matrix (realidade) na qual a
coordenação e cooperação com Pequim se tornará uma necessidade estratégica e a
atual política de supressão tecnológica da China pelos EUA será temperada pelo
efeito urgente decorrente da priorização no manejo das questões domésticas
dentro de um contexto internacional.
Comentários
Postar um comentário